 O ano nem bem acabou e me pego tentando fazer balanços, saldão, retrospectivas, enfim, esses clichês que pontuam o suposto fim e antecedem o recomeço. É fato, 2014 não volta mais. Fim. Já perdi a conta das vezes que ouvi lamentos sobre a efemeridade do tempo, sobre os acontecimentos tristes, as idas, vindas, as chegadas e os fins. Fim do ano sem lamento, retrospectiva, Simone e Roberto Carlos, simplesmente, não é fim do ano.
O ano nem bem acabou e me pego tentando fazer balanços, saldão, retrospectivas, enfim, esses clichês que pontuam o suposto fim e antecedem o recomeço. É fato, 2014 não volta mais. Fim. Já perdi a conta das vezes que ouvi lamentos sobre a efemeridade do tempo, sobre os acontecimentos tristes, as idas, vindas, as chegadas e os fins. Fim do ano sem lamento, retrospectiva, Simone e Roberto Carlos, simplesmente, não é fim do ano.
Eu gosto dessa coisa de fim. Soa frio, pouco amável, ou qualquer outra denominação que renegue a delicadeza do "fica mais um pouco", mas não desfaz o que eu sinto toda vez que algo termina. Eu sinto. Com todos os poros abertos que é pra sentir nas gotículas do adeus o que um dia foi e não mais será. Sinto em conta gotas. Masoquismo, alguns diriam. É justamente por sentir muito que aceito o fim. Prefiro achar que, contrariando a multidão, é melhor o tapa estalado na cara, do que o abraço impessoal. Prefiro o fim, ao não estar disfarçado de permanência. Eu prefiro o fim para acreditar no recomeço. Acredito que o fim corta o tempo em fatias para gente comer aos pouquinhos essa coisa louca que é existir.
Preciso concordar com as senhorinhas do ponto de ônibus: " O tempo sempre foi isso aí. Vocês que estão reparando nele agora, mas sempre foi rápido. Ontem eu era como essa menina aí. Olha hoje". O tempo voa, amor. De lá pra cá muitas coisas aconteceram, outras tantas deixaram de acontecer e nesse vai e vem pouco ou nada sequencial, em 2014 eu não senti a concretude do calendário. A sensação era de que eu estava dentro de uma cápsula onde as horas e os dias não eram divididos nos modos racionais de controle do tempo. Eu não lembro ao certo quando era Janeiro e quando absorta em meu aconchego, descobri que já era primavera. Simplesmente, não senti.
Tenho cá para mim que as coisas permanecem do mesmo jeito para as demais pessoas. O calendário e sua contagem segura. O relógio e o fatiamento minucioso do tempo. Tudo como deveria estar. Vejo meus amigos eufóricos fazendo planos para o reveillon, as alegrias incontidas, os projetos articulados com hora e data para acontecer no ano que está por vir, as atualizações frenéticas, a busca insana por novidades. O que tem acontecido? O que você me conta? Pra onde você vai? Quais são as novidades?
Ao passo em que os observo não sinto tédio, não os julgo, tampouco penso em rasgar as paredes furta cor da cápsula e pular na cama elástica onde todos brigam pelo suposto "tem que ser". Me limito a sentir o impacto dos saltos chegarem feito onda mansa aqui na distância onde penduro minha rede. Me divirto com a dissonância dos quereres e sentires que convivem lado a lado e digladiam diariamente pela sobrevivência de ser. Percebo a beleza e a bondade da distância e o quanto a desprezamos apegados somente a concretude da sua tesoura afiada. Confirmo a minha teoria de que certas são as senhorinhas. Amam e odeiam o tempo, mas o vivenciam da forma mais sábia: em conta gotas. As senhorinhas sabem viver.
Eu até queria, mas não tenho planos para depois do fim. Hoje, meu tempo é outro. Meu cenário também é outro. Brinco com a tesoura da distância, bebo o fel do fim, me lambuzo com o mel do recomeço, espero as ondas frias tocarem as minhas pernas e arrepiarem meus sentidos, faço redemoinhos com a poeira dos que chegam e vão embora, assopro pro vento meu sentires e quereres, sinto em conta gotas. Com força. Deito no colo de Tempo, ouço seus tambores, danço conforme seu ritmo e deixo ser.
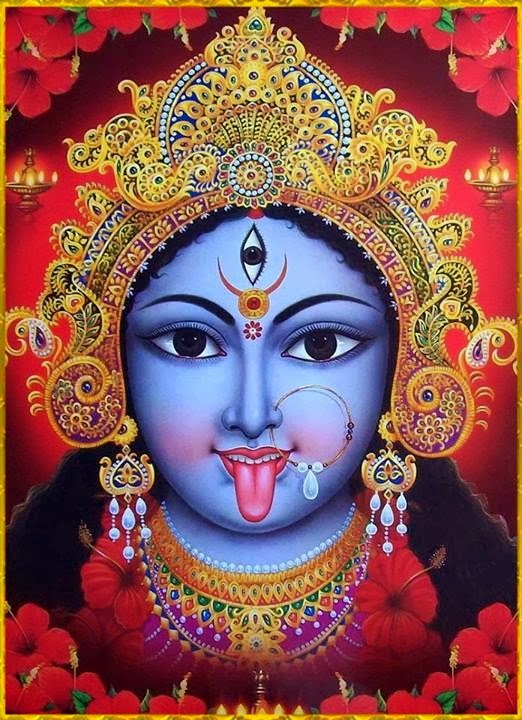

.jpg)
